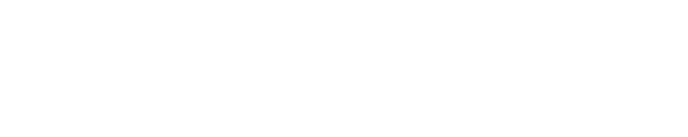Por Reparação e Bem Viver: O Feminismo antirracista da Marcha Mundial das Mulheres
30/07/2025 por @admin
Confira o material elaborado a partir da atividade de formação da MMM rumo à Marcha Nacional das Mulheres Negras 2025.
Em julho de 2025, estivemos mobilizadas nos territórios em atividades do Julho das Pretas! Para fechar o mês e seguir aquecendo os tambores para a Marcha Nacional das Mulheres Negras, que acontecerá 25 de novembro em Brasília, relembramos as contribuições das nossas companheiras Raquel Viana e Gláucia Matos em uma atividade de formação virtual nacional que rolou em abril deste ano.








O tema é sobre a construção do feminismo antirracista da MMM e cerca de 70 militantes da MMM do Brasil todo participaram da formação que contou com a mediação de Bernadete Esperança, da Coordenação Executiva e tivemos a oportunidade de ouvir contribuições importantes das militantes da MMM Ceará e MMM Minas Gerais. A atividade fez parte do processo de preparação e mobilização para a 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras 2025, que traz o tema “Por reparação e bem viver” nesta edição. Nós também estivemos presente na primeira Marcha realizada em 2015.
A MMM coloca o debate antirracista como central na sua elaboração política, pois entende que assim como o capitalismo e o patriarcado, o racismo é um sistema de opressão utilizado para organizar o mundo economicamente e suas relações sociais. E desde seu surgimento a MMM tem acumulado debates e práticas sobre as questões raciais.
O objetivo é fortalecer o debate antirracista no movimento no processo de preparação e mobilização para a 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras 2025, que traz o tema “Por reparação e bem viver” e será realizada dia 25 de novembro no Distrito Federal. Também estivemos presente na sua primeira edição, realizada há 10 anos.
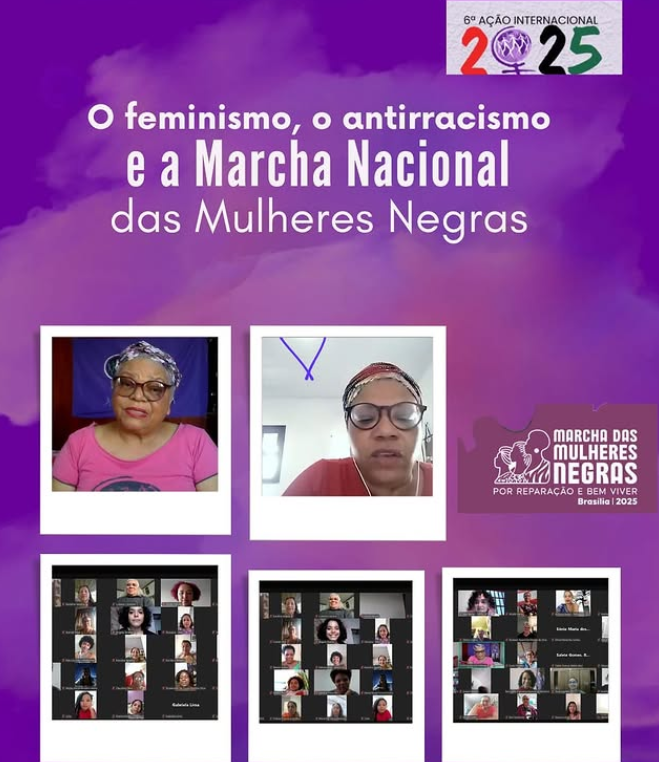

A atividade teve início com a apresentação do vídeo “Mulheres em marcha na luta feminista antirracista” produzido pelas comunicadoras em que traz um breve histórico da MMM na construção da luta feminista antirracista e anticapitalista; com momentos importantes como a elaboração da Carta Mundial das Mulheres Para a Humanidade, elaborada para a 2ª Ação Internacional do movimento em 2005. O vídeo também recupera memórias e registros de militantes que tanto contribuíram para a luta feminista antirracista e que já nos acompanham de outros planos, como as companheiras Helena Nogueira da MMM São Paulo e Cidona da MMM Minas Gerais.
Para início da conversa, Raquel Viana fez uma reflexão para contextualizar a linha política da MMM no debate feminista antirracista sobre gênero, raça e classe e os impactos na vida das mulheres, a partir do texto que se encontra em um dos nossos cadernos de formação chamado “Feminismo e antirracismo em defesa da vida”.
A companheira Gláucia Matos ADENIKÉ trouxe elementos da conjuntura atual que atravessam a vida das mulheres negras no Brasil a partir de dados socioeconômicos e propões reflexões importantes para nossa organização e articulação em conjunto com as organizações de mulheres negras.
A atividade foi encerrada com um vídeo realizado em julho de 2024 com registros de companheiras em movimento no último e 3º Encontro Nacional da MMM Nalu Faria, que aconteceu em Natal em 2024. O vídeo pode ser visto ao lado. Clique aqui para assistir o vídeo.
Aqui você consegue acessar a gravação das falas das companheiras:
- E a seguir, organizamos suas contribuições em texto, material que pode ser utilizado como insumo para formações e rodas de conversa:
O feminismo popular antirracista da Marcha Mundial das Mulheres
Por Raquel Viana, MMM Ceará
Estou muito contente de estar no meio de tantas mulheres reunidas nessa tarde de sábado para discutir e trocar ideias sobre essa questão fundamental para a Marcha Mundial das Mulheres: a questão racial e o feminismo antirracista que nós construímos.
Uma primeira coisa que vamos resgatar e reforçar é nossa compreensão sobre as relações dessa sociedade em que vivemos, esse mundo que queremos transformar, como sempre afirmamos.
Nossas vidas estão atravessadas por um conjunto de relações sociais que estruturam a sociedade e estão imbricadas, ou seja, estão interligadas e conectadas.
Essa compreensão orienta toda a ação política da Marcha Mundial das Mulheres, tanto do ponto de vista das elaborações teóricas, mas também na nossa prática política.
Pontos de partida
Ao longo da trajetória da Marcha Mundial das Mulheres temos acumulado essa análise crítica da sociedade patriarcal, racista e capitalista, e de como essa sociedade afeta as nossas vidas concretamente. Para nós, o racismo, assim como o patriarcado, é um pilar desse sistema econômico dominante.
O racismo, assim como o sexismo, foi construído socialmente. E tanto o racismo quanto o sexismo, não são apenas um comportamento ou um discurso, não é apenas uma ideia ou um comportamento individual. O racismo estrutura esse modo de produção da sociedade capitalista.
Outra coisa importante para destacar aqui é entender o racismo não como um recorte, como se fosse um pedaço da realidade, muito pelo contrário. O racismo, na nossa compreensão, é um fundamento, ele é a essência dessas desigualdades, dessa exploração, igualmente como o sexismo, as questões de raça, de classe e de gênero.
Isso nos remete a um outro elemento importante que orienta essa perspectiva do nosso feminismo antirracista.
O entendimento de que essas relações são indissociáveis, como afirmam as feministas francesas como Daniela Kergoat sobre a consubstancialidade, e as estadunidenses do Combahee River que contribuíram com o termo interseccionalidade.
Esses dois termos trazem a compreensão de que essas relações estão imbricadas. A MMM acaba utilizando mais a perspetiva da consubstancialidade.
Ou seja, não têm como a gente separar, do ponto de vista prático, da vivência concreta, essas dimensões. A gente pode separar do ponto de vista teórico, do explicativo, eu posso falar sobre relações de gênero, sobre relações de classe e relações raciais, mas entendendo que essas relações estão imbricadas.
Isso é importante para a nossa construção, significa que não se trata de um somatório de identidades ou de opressão, ou seja, uma mulher negra, pobre, outros tipos de opressões.
Porque é muito comum, às vezes, até nos nossos movimentos, quando a gente quer enfatizar a questão do racismo que afeta as mulheres negras, a gente sempre coloca de forma como se fosse um somatório. As mulheres, além de negras, são mulheres pobres, e etc..
Mas a verdade é que a vida concreta, real, não faz essa separação. Por exemplo, eu, Raquel, ser só mulher negra ou, no caso, só uma mulher pobre. Isso é inseparável.
Isso ajuda a orientar não só a nossa compreensão da vivência das mulheres negras, mas também a nossa intervenção política.
Além dessa consubstancialidade, a Kergoat vai dizer também que essas relações de gênero, raça e classe, são coextensivas, se reproduzem e se constituem mutualmente. São sistemas que estruturam essas relações e vão se combinando.
Por isso enquanto movimento temos a perspectiva de transformação total da sociedade.
A divisão sexual e racial do trabalho
Outro elemento muito importante para entender é a divisão sexual e racial do trabalho. No feminismo da Marcha compreendemos que a divisão sexual é também racial e internacional do trabalho, porque a questão do trabalho também é central para entender essas relações de gênero, raça e classe, e como essas relações estão organizadas.
A divisão sexual e racial do trabalho nos fornece elementos justamente para entender como o trabalho das mulheres, de um modo geral, mas das mulheres negras em particular, é explorado, desvalorizado, invisibilizado e que também tem raízes históricas. E aí a gente traz referência como a Angela Davis, que também nos ajuda muito a pensar sobre o trabalho das mulheres negras.
No seu livro “Mulheres, raça e classe”, Angela Davis vai trazer o debate sobre a plantation, que era aquele sistema de produção agrícola que predominou durante muito tempo nas colônias europeias, e que também veio para o Brasil durante o período colonial. E essa plantation era justamente um sistema que invadia, de certa forma, e roubava os territórios das populações originárias. E esses territórios passavam a plantar uma única cultura, em larga escala.
No caso do Brasil, foi a cana-de-açúcar, principalmente durante o período colonial, e também era onde o trabalho era sustentado pela força de trabalho escravizado. Tanto de pessoas trazidas do continente africano, mas também dos povos indígenas. Então, a Ângela Davis vai retratar a trajetória de mulheres negras nesse sistema e de como as mulheres eram submetidas às mais brutais formas de violência, de estupro, de apropriação direta do seu corpo transformado em produto, e do seu trabalho, ou seja, as mulheres eram vistas como reprodutoras de mão de obra escrava, ou seja, o papel das mulheres era parir crianças que já nasciam em condição de escravização.
Esse processo não terminou com a chamada abolição. Pelo contrário, ele prosperou e se constituiu como um elemento que estrutura ainda hoje as relações no Brasil.
A gente não precisaria ir tão longe para entender como o racismo organizou e continua organizando as relações na sociedade brasileira e pensar como vivenciamos a colonização no Brasil, com um sistema escravista extremamente violento, anti-humano e sexista, e como atravessou a vida e os corpos negros e principalmente das mulheres negras pela força bruta.
O racismo permanece na atualidade e vai aniquilando as vidas negras, não só do sentido físico, da morte propriamente dita, mas aniquilando as vidas de mulheres e homens negros a partir de diversas violências que são infligidas sobre essas populações.
E isso é parte do que explica o lugar de subalternidade das mulheres negras no mundo do trabalho, o trabalho mal pago, o trabalho precarizado, estigmatizado, o trabalho que é desvalorizado.
De um modo geral, o trabalho das mulheres, principalmente o trabalho doméstico e de cuidados, ele é caracterizado, digamos assim, a partir desses elementos, mas o trabalho das mulheres negras a partir desse elemento do racismo, ele passa também a ter algumas particularidades.
E essa divisão sexual e racial do trabalho nos possibilita entender as grandes desigualdades vivenciadas pelas mulheres, em particular, pelas mulheres negras.
O que a gente percebe é que não somente esse trabalho, essa divisão, ela hierarquiza o que são os trabalhos que têm que ser realizados por mulheres, o que são os trabalhos de homens, mas também ela vai dizer quais trabalhos devem ser realizados por mulheres negras e por homens negros.
E que são trabalhos considerados trabalhos sujos, trabalho barato e trabalho desqualificado. Podemos fazer um exercício bem rápido e simples, que a gente, no movimento negro, costuma fazer, se chama o teste do pescoço:
A gente fecha os olhos por alguns segundos, e nos imaginamos em diversos espaços, num hospital, numa escola, na universidade, enfim. E aí a gente pergunta quantas pessoas negras nós vimos nesses espaços.
Este é um exercício justamente para compreender como o racismo foi organizando também essas desigualdades e essa divisão sexual e racial do trabalho. Não só separou os trabalhos realizados por pessoas negras, o trabalho realizado por pessoas não negras, mas também os espaços onde pessoas negras podem estar.
O que significa que é justamente o papel do Estado e das instituições na reprodução das desigualdades e do racismo. A gente entende que o Estado reproduz desigualdade a partir das suas instituições e suas políticas, as desigualdades de gênero, raça, e classe.
A responsabilidade do Estado no enfrentamento e superação do racismo
O Estado, apesar de ter como papel representar os interesses da população de um modo geral, historicamente, representou interesses das elites e classes dominantes. Então, por ser uma instituição que reproduz essas desigualdades, ele também reproduz o racismo.
E a MMM traz essa discussão de como é que o Estado atua na reprodução dessas desigualdades e do racismo, junto a essas elites nacionais e transnacionais, para garantir a acumulação capitalista.
Trazemos a questão do racismo ambiental, que é justamente por onde se expressa essa opressão racial vinculada e essa relação com a degradação ambiental e expropriação dos territórios que atravessa principalmente as pessoas pobres, negras, indígenas, que desvaloriza e se apropria dos conhecimentos dessas populações e não reconhece os saberes construídos dessas populações. No movimento negro a gente chama de epistemicídio.
Além do racismo ambiental, nós denunciamos também o racismo institucional, que é justamente como o Estado intervém nos territórios, geralmente de forma autoritária, sem consulta às comunidades, às pessoas que ali vivem, e na maioria das vezes para atender interesses que não são da população.
Também não só a partir dessa forma de intervenção, mas também de como é que isso se reproduz nas instituições através da discriminação. No trabalho, nas unidades de saúde, nos diversos serviços e equipamentos do Estado, como por exemplo, como as mulheres negras vivem no cotidiano as violências nesses serviços. Por exemplo, a violência obstétrica, que infelizmente tem sido recorrente entre as mulheres negras, também são formas de como o Estado reproduz o racismo nas suas estruturas e nas suas instituições.
Outro debate importante que a Marcha vem fazendo, e que retomamos isso na nossa 6ª ação, é o debate da violência, a desmilitarização, que nada mais é essa violência que vivemos, tanto nas comunidades periféricas, nas favelas, quanto no campo, nos territórios indígenas, nos territórios e comunidades quilombolas.
Pelo fim das violências e da desmilitarização da vida
Trazemos o debate da desmilitarização como algo extremamente importante e que diz respeito totalmente às mulheres. Com a compreensão de que a desmilitarização vai além das guerras e dos conflitos nos territórios. Sejam os conflitos em virtude dos impactos dos grandes empreendimentos que a gente tem vivenciado muito, sejam os conflitos do tráfico, entre outros.
É preciso construir o que chamamos de cultura de paz, que veja as mulheres e as pessoas negras, racializadas como sujeitos que tenham condições de viver nos seus territórios de forma livre e sem violência.
E só é possível isso com a erradicação das diversas desigualdades que estruturam a sociedade.
É por isso que a gente faz a crítica, por exemplo, às diversas políticas do Estado, as chamadas políticas de prevenção às drogas e de enfrentamento ao tráfico. São políticas que, além de não resolverem o problema, acabam gerando novos problemas que também são formas de violência do Estado contra essas populações, principalmente a população negra.
Não é à toa que a maioria das pessoas que morrem pela mão armada do Estado são as pessoas negras, mulheres, homens e jovens, principalmente negros das periferias do país.
Essas desigualdades também tem uma dimensão das subjetividades. É muito importante pensarmos sobre isso, porque não podemos separar o que é a subjetividade e o que é a objetividade porque as duas também são construídas, e elas têm reflexo uma na outra.
Por exemplo, quando falamos nos estereótipos, também chamados de imagens de controle. O modo como a imagem das mulheres, de um modo geral, mas a imagem das mulheres negras foi constituída no imaginário social.
A partir da hiperssexualização das mulheres negras, ou seja, a imagem da mulher negra que é a mulher quente, que é a mulher boa de cama, que é a mulher que transpira sexualidade. Então, a própria imagem das mulheres negras associada à servidão e ao prazer sem limites.
E quando eu digo que essa subjetividade e objetividade estão juntas, é justamente a partir dessa imagem que se tem das mulheres associadas à servidão. Também a imagem do lugar que as mulheres ocupam, por exemplo, no mercado do trabalho, como eu falei anteriormente, naqueles trabalhos mais precarizados, mas principalmente no trabalho doméstico, no trabalho doméstico remunerado, também é parte desse processo e é parte dessa construção dessas subjetividades.
São processos que andam juntos. A gente faz esse diagnóstico do que é a sociedade que a gente vive, esse mundo que a gente quer mudar a partir do nosso feminismo antirracista, anticapitalista e antipatriarcal, mas também falar dos processos de resistência e de organização das mulheres livres.
E nesse sentido, a Marcha também provoca o debate de que o conhecimento não é neutro, que não existe uma neutralidade no conhecimento, que esse conhecimento também surge a partir das vivências e ele tem uma base na realidade.
Então, falar da vivência das mulheres e da vivência das mulheres negras e considerar essas vivências como parte e elemento fundamental para entender a dinâmica da sociedade é muito importante, reconhecer que nós, mulheres negras, nós temos uma trajetória comum que é marcada justamente pelo racismo na história da escravização.
Por isso a organização das mulheres negras vai englobando todos esses elementos e tem a perspectiva da ancestralidade, do saber ancestral. É por isso que a gente se reverencia, e reverencia também nossas mais velhas, os nossos mais velhos, porque reconhecemos que eles trazem também essa trajetória que guarda elementos comuns de vivência e de entendimento do que são as relações e do que é o mundo em que a gente vive.
Então, nós, mulheres negras, nós estamos em todos os espaços organizativos da sociedade, nós estamos nos movimentos mistos, por exemplo, no movimento negro, como o Movimento Negro Unificado (MNU), que é misto, nós estamos em outros movimentos, de luta pela Terra, como o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra (MST), nós estamos nos partidos políticos, nós estamos em movimentos de mulheres negras, ou seja, específicos de mulheres negras, nós estamos em movimentos como a Marcha Mundial das Mulheres, que agrega mulheres na sua diversidade, mulheres negras e mulheres não negras.
Buscamos justamente, a partir dessa organização e desse movimento, ir transformando essas relações, como diz a Ângela Desa, movendo essas estruturas, essas estruturas de poder, essa estrutura que é patriarcal, que é capitalista e que é racista.
Eu acho que é um elemento importante, esse processo organizativo das mulheres negras, ele guarda uma importância muito grande para nós, da Marcha Mundial das Mulheres, que é justamente como é que a gente constrói uma ação coletiva, uma intervenção coletiva da marcha, nessa perspectiva de transformar a vida de todas as mulheres desde uma perspectiva anticapitalista, antipatriarcal e também antirracista.
A gente só vai transformar, de fato, a vida de todas as mulheres, à medida em que a gente consiga entender como é que essas três dimensões se combinam e organizam a vida na sociedade e como afetam e atravessam as nossas vidas e as vidas das mulheres negras, principalmente.
Acho que a gente tem continuar investindo nesse processo de debate dentro da Marcha Mundial das Mulheres e acumulando a partir das diversas contribuições, a partir da nossa intervenção política, não só no movimento de mulheres negras, mas também de outros movimentos, e a gente ir aprofundando esse debate.
Nós temos essa tarefa de fortalecer e amplificar essa perspectiva do nosso feminismo antirracista como uma tarefa coletiva, uma tarefa de todas as militantes da Marcha Mundial das Mulheres. Não é uma tarefa somente das mulheres negras ou das mulheres negras que militam no movimento.
Temos condições de avançar nesse processo de fortalecimento do conjunto das mulheres e do movimento das mulheres, da Marcha Mundial das Mulheres, e, de fato, transformar o mundo e transformar a vida de todas as mulheres.
Situação das Mulheres Negras no Brasil: Dados de 2022-2024
Por Gláucia Matos ADENIKÉ, MMM Minas Gerais
Nesta reflexão vamos olhar para a situação das mulheres negras nessa conjuntura atual. É interessante, quando comecei a ver os dados e analisá-los, eu remeti a um passado de 1997, quando eu e várias outras companheiras, como Edna Roland e Dida, estávamos construindo a Fala Preta, Organização de Mulheres Negras. Naquela época, a gente já via a situação das mulheres negras na base da pirâmide, em todas as áreas, saúde, educação, etc.
Enquanto estava analisando, falei, “gente, quase 30 anos!”, e fiquei preocupada. Conversando com Edna Roland, inclusive, ela falou: “Gláucia, tivemos avanços, sim, mas as desigualdades permanecem”.
Nesse sentido não vamos desistir, haja vista que nós, mulheres feministas, estamos há séculos lutando contra as violências e opressões. A gente está no século XXI, seguimos lutando e vamos continuar. Houve avanços, mas as desigualdades de gênero permanecem.
Às vezes, a gente pensa que as mudanças não aconteceram assim rapidamente, porque nós estamos em movimento, nós estamos na militância, mas não é bem assim. Bom, aí meu coração ficou um pouco mais tranquilo.
As referências dessa análise de dados são o IBGE, também o Ministério da Mulher, o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, que traz vários dados, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, e também do relatório elaborado pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR), a segunda edição sobre as mulheres negras.
O IBGE trabalha com a definição de população preta e parda para levantar os dados. No nosso movimento negro, de mulheres negras, e do Estatuto da Igualdade Racial, nós consideramos negras as pessoas pretas e pardas. Então hoje nós somos no Brasil, 212 milhões de habitantes, conforme o IBGE.
Aí o IBGE coloca o seguinte, que a população preta e parda totalizam 119 milhões, quer dizer, 56% da população. Nós somos a maioria da população brasileira. E aí vocês verificam que o IBGE utiliza as categorias preta e parda.
E nós colocamos mulheres negras ou homens negros, aqueles que são pretos e pardos. Só para a gente acompanhar um pouco nessa discussão. As mulheres negras são a maioria do grupo populacional.
Então, nós somos 60,6 milhões de mulheres… Somos 60,6 milhões de mulheres, sendo que 11,30% são mulheres pretas e 49,3 milhões são pardas, conforme o IBGE. Então, pretas e pardas, nós somos a maioria das mulheres presentes no Brasil. E onde nós estamos? Nós estamos concentradas na região Sudeste e Nordeste.
É muito interessante saber sobre o território, onde essas mulheres, a maioria das mulheres, circulam.
Trabalhando um pouco esses dados, a gente vê quais são essas narrativas, o que é que as pessoas falam sobre esses dados, como as instituições pensam sobre isso, como as lideranças também.
E como nós, aqui, nessa reflexão da MMM, vamos construindo essa narrativa sobre essa desigualdade. Esse exercício, de pensar o que a mulher negra precisa, no seu cotidiano, enfrentar de obstáculos para superar as desigualdades.
Isso aí é interessante a gente pensar, e não individualmente, mas coletivamente, como a nossa companheira Raquel havia dito.
Como que nós, coletivamente, enquanto Marcha Mundial das Mulheres, enquanto movimentos sociais, podemos identificar, na sociedade brasileira, as desigualdades relacionadas à raça e gênero. E qual o efeito dessa desigualdade na vida das mulheres negras?
Aqui, o foco que nós estamos trabalhando hoje são as mulheres negras. Evidenciando, assim, a necessidade de políticas públicas eficazes que possam auxiliar na promoção da qualidade de vida, da reparação e pelo bem viver pelas mulheres negras, aqui pretas e pardas, e suas famílias das quais elas são responsáveis.
Então, na medida que nós analisamos a sociedade, agregando essa dimensão da desigualdade de raça e gênero, nós podemos elaborar ações que possam enfrentar essa desigualdade. Então, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista de moradia, do ponto de vista da educação, da saúde, do ponto de vista do lugar onde as mulheres negras estão, essas desigualdades raciais estão presentes.
No Brasil, as mulheres pretas e pardas enfrentam uma carga dupla de opressão, por serem mulheres e por serem negras, e a maioria pertencente às classes economicamente desfavorecidas.
Representa uma parcela significativa dos registros de violência doméstica, o que torna provável que as notificações de autolesão também carreguem essa marca racial, que torna suas experiências de sofrimento particularmente intensas.
A gente registra isso porque estando as mulheres negras na base da pirâmide social, mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, homens brancos, a violência relacionada às desigualdades, e principalmente por ser mulher e por ser negra, modifica a vida dessa mulher no seu cotidiano e na sociedade.
Desigualdades de raça e gênero: trabalho, renda e pobreza
Nós enfrentamos maior vulnerabilidade na questão da violência, exploração, estresse socioeconômicos, fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da prática autodestrutiva.
Isso quer dizer, no campo do racismo, da discriminação do gênero, essa vulnerabilidade relacionada às mulheres influenciam na questão do trabalho, da renda e da pobreza.
Ainda somos, as mulheres negras, que temos um salário menor, a renda per capita geralmente é dividida para a maioria das pessoas e na relação do trabalho, nós somos a maioria que não tem carteira assinada ou que não tem trabalho formal, vivendo na informalidade.
Segundo o IBGE, o rendimento médio das mulheres negras foi menos de 60% do rendimento das mulheres brancas. Isso do ponto de vista das necessidades cotidianas, aluguel, ter a moradia, escola, transporte, educação, etc.
Se você gasta ao mesmo tanto e recebe menos, então a sua vida tem um desequilíbrio social entre as mulheres. E é por isso que a gente busca a política pública para ter um equilíbrio de igualdade. Quando o governo Lula aprova a questão do registro da carteira assinada para as trabalhadoras domésticas, a gente está tentando equilibrar um pouco as condições de igualdade entre as mulheres não negras.
Então, o que representa mais uma vez esses dados para nós, enquanto uma ação de reparação e do bem viver das mulheres? Quais são os caminhos, as alternativas que nós temos relacionadas a essa situação?
Nos governos democráticos e populares, essa questão do cadastro único foi fundamental para diminuir um pouco essa questão da desigualdade relacionada às questões sociais e econômicas. Mas ainda permanece o dado de que a maioria das mulheres cadastradas nesse cadastro único são mulheres negras.
Cerca de 40% dessa população que é cadastrada no cadastro único ainda são mulheres negras, na faixa de idade de 18 a 65 anos. E que também permanece, porque o cadastro único foi criado para facilitar os programas de políticas públicas.
Muitas dessas mulheres não negras conseguem sair do cadastro único, conseguem um emprego, conseguem melhorar de vida. E, pela pesquisa, as mulheres negras mantém mais tempo, infelizmente, nessa situação.
Isso também é uma das violências. E aí a gente vê que a elite brasileira é contra esse Cadastro Único. Colocam que nós, mulheres, e as pessoas que estão no cadastro, que recebe Bolsa Família, Auxílio Gás, etc., que não gostamos de trabalhar, que é preciso ensinar a pescar e não dar o peixe.
Mas como nós vamos ensinar a pescar se a desigualdade é estrutural, é institucional? Então, não é bem assim.
Nós precisamos caminhar para que possa acontecer, de fato, as políticas de promoção à igualdade racial e de gênero. Do ponto de vista da sua relação com o gênero, o gênero feminino e o gênero masculino, também é evidenciado maior índice de violência contra as mulheres negras, comparada às mulheres brancas. No 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança, o recorte de raça e cor retrata que das mulheres vítimas de violência letal e intencional no Brasil no ano 2022, em torno de 68,9% eram negras.
É altíssimo esse índice. E 39,4% brancas. A violência permanece, não é uma comparação de quem recebe mais ou menos violência.
Infelizmente, o feminicídio, e os vários tipos de violências acontecem no maior patamar relacionado às mulheres negras.
Também na questão da educação. Se a gente for pensar na história do Brasil, com o tráfico transatlântico, a colonização, o processo de estabelecimento da república, foram criadas leis impedindo à população negra de acesso à escola.
Essa consequência segue até hoje no Brasil. Nós ainda somos em menor número no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade, e cursos superiores. Isso retrata também do ponto de vista da qualificação profissional e também da questão salarial.
Porque hoje, na sociedade capitalista, você ter um diploma universitário pode facilitar uma possibilidade de maior salário na sua vida. Então, as disparidades ainda são consideráveis e o percentual de mulheres negras com curso superior completo é aproximadamente metade do percentual da população de mulheres brancas. Vale notar que as disparidades estão presentes em todos os níveis de ensino.
Estamos numa situação da necessidade da reparação já. Não é reparação depois, tem que ser reparação já.
E na questão da saúde? Na saúde também há um grande índice de ações, tanto do poder público como das trabalhadoras e dos trabalhadores em relação ao enfrentamento do racismo estrutural e institucional.
O racismo, o preconceito, a discriminação racial estão dentro de uma estrutura da sociedade. Portanto, em todos os espaços, e principalmente nos espaços públicos, também vai haver esse procedimento de inferiorização com dificuldade de tratamento igual para a população negra e principalmente às mulheres. Então, as políticas de atenção integral à saúde da mulher destacam fatores como cor, raça e etnia.
Na década de 90, nós reivindicamos para estar na ficha de atendimento médico o quesito cor, raça e etnia. Faz pouco tempo, em 1990, para poder identificar a predominância da saúde relacionada à questão de raça e etnia. Então, os maiores índices relacionados a doenças e as condições agravantes da pobreza, exclusão e questões relacionadas, também atravessam com maior força as mulheres negras. Conforme os dados, impacta diretamente nos índices de mortalidade materna, desnutrição, incidência de doenças cardiovasculares e crônica degenerativa.
Quer dizer que, em 2020 e 2023, mulheres pretas, pardas e indígenas apresentaram razões de mortalidade materna mais altas em comparação com mulheres brancas. E aí tem várias questões de violência que a gente podemos levantar.
A questão da discriminação. As mulheres não recebem o analgésico para dor, geralmente o parto é natural, forçam até que o parto seja natural, ficam com mais tempo de espera. Tem vários exemplos de situações de um atendimento à saúde muito ruim e desigual em relação às pessoas brancas. Além disso, tem a questão de diabetes tipo 2, que tem maior predominância ou prevalência nas mulheres negras. Também a hipertensão arterial, eu sou uma delas, e atualmente tem se aumentado os índices de sífilis.
Tem um dado que eu não trouxe aqui, mas é a questão da dengue aqui em Minas Gerais, as mulheres negras também ocupam maior incidência de atendimentos e mortes.
Nós temos também as questões sobre condições de moradia. Infelizmente, também é um dado ruim, porque a maioria das mulheres negras são periféricas e vivem em lugares em que a situação de pobreza e da miserabilidade é enorme. E nesse sistema, a terra, a propriedade, ela vale um preço altíssimo. Então, boa parte das mulheres, e vale dizer, são mulheres chefes de família, que no cotidiano precisam assumir todas as despesas.
E a moradia é um preço alto relacionado aos outros gastos. Então, a péssima condição de moradia em locais onde não tem redes de esgoto, não tem água potável, isso traz consequências não só para a vida das mulheres, como também da sua saúde e da sua família.
Os dados do Cadastro Único mostram que aproximadamente 69% dos quase 230 mil brasileiros que vivem nas ruas são pessoas negras, sendo que 60% são homens negros e pouco menos de 9% são mulheres negras.
Quando se olha apenas para as mulheres, as negras correspondem por mais de 70% do total de mulheres em situação de rua. Eu coloquei esse dado porque, para mim, isso é um dado novo.
Nós sempre falamos em moradores de rua, mas está aumentando o número de mulheres que não têm um espaço, um território para ter a sua residência e a maioria são mulheres negras, entre as mulheres que estão em situação de exclusão do direito de ter sua casa, de ter um lugar que nos acolhe com dignidade, se estamos trabalhando a questão do bem-viver e a reparação.
Acho que seria importante colocar aqui o monitoramento, que a nossa participação nos movimentos sociais, como Raquel disse, nós estamos em todos os lugares, no nosso movimento de saúde, movimento de moradia, na MMM, no movimento por transporte, é importante a gente monitorar as políticas que nós consideramos importantes e essenciais para o enfrentamento às desigualdades no Brasil, relacionadas às mulheres negras e indígenas. Estudando também vi que as mulheres com deficiência também têm um grau de vulnerabilidade muito grande.
Então, eu iniciei minha conversa falando sobre o meu papo com a Edna Roland, que foi relatora da Conferência de Durban e também presidente da Fala Preta, Organização de Mulheres Negras. E eu gostaria de deixar essa reflexão aqui nessa conversa que nós estamos sobre o feminismo antirracista, antipatriarcal e popular.
A Edna, nessa conversa recente, me disse assim. Na Conferência de Durban, que foi em 2001, da qual eu estava presente como delegada do Brasil, e ela também, Edna diz que foi um marco na nossa história e abriu caminho para políticas públicas, especialmente na área da educação, emprego, saúde e comunicação. Para a Edna Roland, muito mais precisa ser feito em outras áreas, dentre as quais a segurança pública, que continua a vitimizar especialmente os jovens negros. Por outro lado, é importante que o racismo e seus efeitos sejam reconhecidos.
Se antes se pensava que o Brasil era o país da democracia racial, hoje a imensa maioria reconhece que o racismo existe e tem efeitos deletérios que resultam em desigualdade, violência e mortes. Quer dizer, o racismo mata. Com isso, não estou dizendo que foi superado, mas que podemos continuar travando uma luta incessante para sua superação.
Só se pode destruir o que a gente sabe que existe e que é maléfico. Hoje, no Brasil, nós sabemos que há avanços, mas as desigualdades permanecem. Temos aliadas e aliados, e devemos travar a nossa luta com a nossa coragem e disposição.
Achei muito importante colocar essa fala da Edna Roland, porque durante mais de 6 anos, eu tive duas escolas, uma do feminismo e a outra do antirracismo. A primeira escola de formação foi a SOF. Foi uma técnica da SOF, militante, que me ensinou e do qual eu fui uma aprendiz e tenho levado isso para o resto da vida. Na questão do feminismo e na luta por um mundo melhor pelas mulheres e pela população em geral. E na Fala Preta, a escola da luta antirracista, por onde eu passei também e foi a minha escola.
E a Marcha Mundial das Mulheres, nessa construção fundamental que é a luta contra o capitalismo, contra as opressões, contra as discriminações, contra todo tipo de preconceito, contra o racismo e, principalmente, o feminismo da MMM traz o prazer de viver. Nós queremos essa vida boa para todas e para todos.
É por isso que a gente diz o seguinte, que a gente aponta a incidência das discriminações, mas a gente luta para uma transformação geral para a organização do movimento, mas também para a elaboração de políticas públicas que possam reverter esse quadro.
O objetivo da apresentação de dados é apontar espaços para a incidência de políticas públicas que visem à reversão desse quadro e de outras evidências igualmente conhecidas, negligenciados na agenda governamental nos processos de construção, implementação, monitoramento e acompanhamento de politicas públicas de gênero e raça.
E aí essa proposição nossa da MMM é fundamental na construção da Marcha das Mulheres Negras, fundamental para que a gente possa, juntas, de todas as raças e cores, como já dizia algumas poetas: a gente está resistindo e marchando até que todas sejamos livres.
E aí eu termino com uma dedicatória que a Matilde Ribeiro escreveu para mim no seu livro, no primeiro livro sobre o movimento de mulheres “Mulheres Negras em movimento: “Gláucia, me leve junto contigo e nós e as outras mudaremos coisas importantes no mundo”.
Angela Davis disse, mais uma vez citada aqui, Raquel já havia citado: “quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”.
Nós vemos isso aqui no Brasil, nós somos a maioria, ela está correta.
E Lélia Gonzalez: “Ao reivindicar nossa diferença enquanto mulheres negras, enquanto amefricanas, sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas da exploração econômica e da subordinação racial e sexual. Por isso mesmo trazemos conosco a marca da libertação de todas e de todos. Portanto, nosso lema deve ser agora, organização já!”.
Marchamos contra as guerras e o capitalismo, defendemos a soberania dos povos e o bem viver. Marcha Mundial de Mulheres, presente na Marcha Nacional de Mulheres Negras! Muito obrigada.
Fontes dos dados:
– https://www.undp.org/pt/brazil
– https://www.gov.br/mulheres/pt-br
– https://www.gov.br/mulheres/pt-br/observatorio-brasil-da-igualdade-de-genero/raseam
– https://www.ibge.gov.br/
-https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202311/mir-investe-em-pesquisa-monitoramento-e-avaliacao-de-dados-sobre-populacoes-negra-e-quilombola
– https://www.gov.br/igualdaderacial/pt-br/composicao/secretaria-de-gestao-do-sistema-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial/diretoria-de-avaliacao-monitoramento-e-gestao-da-informacao/informativos/informe-edicao-mulheres-negras.pdf